Por Beatriz Crivelari
beatrizcrivelari@usp.br
A história é conhecida. Às 9h30 do dia 18 de junho de 1908, 781 japoneses desembarcavam do vapor Kasato-Maru no canal número 14 do Porto de Santos. O Japão passava por tensões sociais devido à escassez de terras férteis e incentivava a emigração de seus habitantes. Os destinos eram principalmente as fazendas de café do interior paulista, em um Brasil que buscava mão de obra barata e tinha como objetivo se “branquear”. A política teve efeito. No ano de 2017 foram contabilizados mais de 1,5 milhão de brasileiros com ascendência japonesa. Eu estou entre esses 1,5 milhão.
Não foram apenas meus ancestrais que migraram para o Brasil. Junto com eles, trouxeram parte da cultura, tradições e costumes que mantinham no Japão. Num primeiro contato, a diferença cultural aparentou ser muito grande e os primeiros imigrantes passaram por um árduo processo de adaptação. Na opinião da pesquisadora Mariany Toriyama Nakamura, doutoranda na área de cultura pop japonesa, o processo pode ser considerado até doloroso para os japoneses, o que pode ter afetado a forma como os imigrantes se relacionaram com os brasileiros. “Foi uma coisa que refletiu muito nas outras levas e na forma como essas colônias de imigrantes se configuraram. Se fecharam muito. Não teve tanta mistura entre brasileiros e japoneses”.
Com o passar do tempo, conforme o número de imigrantes crescia e o contato entre as nacionalidades ficava maior, o interesse pela cultura japonesa aumentava. Um dos fatores que mais colaboraram para essa disseminação foram o anime e o mangá. De acordo com Mariany, os mangás vieram para o Brasil junto com os imigrantes como uma forma de preservar a cultura, educar as crianças e manter o contato com o que havia sido deixado para trás. No entanto, como eram escritos em japonês, foram se popularizar entre os brasileiros apenas com o início das traduções.
Já os animes tiveram maior facilidade em conquistar o público brasileiro. Com uma população nipo-brasileira crescente, as redes de televisão começaram a investir em desenhos de animação japoneses. Para a pesquisadora e professora Simonia Fukue, isso ajudou a impulsioná-los. Se diferenciavam dos demais por sua narrativa ágil e constante, com episódios subsequentes. Somado a isso, os personagens se constroem como pessoas comuns que são super-heroínas, além do traçado com olhos grandes e a colorização.
Nos dias de hoje, já é notável a influência da cultura japonesa no Brasil. Passamos por inúmeros restaurantes de culinária japonesa todos os dias, sabemos nomear animes variados e algumas pessoas sabem até pronunciar umas palavras na língua. Essa disseminação tão grande da cultura me levou a refletir sobre os símbolos que atualmente representam costumes de meus antepassados. Parecia correto que ícones pelos quais tenho afeto fossem disseminados sem qualquer simbologia? Seria normal essa paixão tão grande que algumas pessoas parecem ter pela cultura japonesa? O quanto tudo isso contribui para a formação de um estereótipo sobre nós, nipo-descendentes?
Foi pensando em tudo isso, em meus questionamentos acerca de parte da minha herança cultural e indagações sobre minha própria ascendência, que essa matéria começou.
Origens dos estereótipos
Por muito tempo, o Japão foi um país pouco conhecido no resto do mundo. Isso, na opinião de Mariany, fez com que fosse criada uma atmosfera misteriosa ao redor da cultura do país, que passou a ser considerada muito exótica. Quando começou a se abrir para o Ocidente, após perceber que, num contexto de colonização europeia, a estratégia de isolamento colocaria em risco seu território, o resto do mundo já tinha uma imagem pré-concebida de que os japoneses possuíam hábitos e costumes extremamente distantes da realidade ocidental – quase que de outro mundo. Além disso, por conta da distância geográfica e dificuldade de acesso, imagens da cultura que chegavam até o outro lado do globo representavam elementos mais tradicionais, mas que nem mesmo nós, descendentes, temos total conhecimento.
Para Simonia, essas imagens estereotipadas eram antes a das gueixas, relacionadas à arte tradicional japonesa. Agora, são mais do mundo pop japonês. Ela relata que já sofreu por conta desses estereótipos: “Uma vez, fui fazer um teste, acho que era para o comercial de uma empresa, e fizeram um coque na minha cabeça, colocaram dois ohashis e fizeram uma maquiagem que não era nem japonesa, era quase que um estereótipo de chinês”.
Outro estereótipo muito disseminado atualmente é o da chamada minoria modelo. Essa imagem surge da ideia de que os japoneses conseguiram obter sucesso nos âmbitos acadêmico e econômico, mesmo com todas as dificuldades que enfrentaram durante a imigração. Nós, descendentes, seríamos muito inteligentes, disciplinados e bem educados, um tipo de preconceito que nos coloca em posição de privilégio.
Para Tami Tahira, colaboradora da Plataforma Lótus de Feminismo Interseccional e do projeto Perigo Amarelo, esse estereótipo é ainda mais problemático quando somos inseridos numa estrutura em que outras culturas, como a negra e a indígena, não são admiradas. Também relata que, muitas vezes, esse rótulo faz com que as conquistas dos nipo-descendentes sejam menosprezadas, já que as pessoas tendem a atribuir o sucesso à etnia, e não ao esforço próprio. É nesse contexto que surgem frases como “mate o japonês para conseguir passar na prova”, “como você é japonês e não é bom em matemática?”. Quando obtemos um bom resultado, não é nada mais que o esperado. Quando falhamos em algo, é porque somos uma decepção e não fazemos jus à nossa cultura.
O soft power japonês
Outra explicação para a disseminação e a popularização tão grandes da cultura japonesa no Brasil é o chamado soft power. Soft power é o poder que um país tem de influenciar indiretamente os comportamentos e interesses da população de outros países, não através de recursos militares ou econômicos, mas de recursos culturais e ideológicos. No final dos anos 90, em meio a uma crise econômica, o Japão utilizou essa estratégia como forma de tentar recuperar sua posição no cenário mundial. O país comercializou sua cultura e seus hábitos, colocando-os como fatores admiráveis e torcendo para que os ocidentais fossem obcecados por essas ideias.
Para Tami, é muito impressionante e assombrosa a força com a qual o soft power chega no Brasil, já que essa imposição atinge periferias, negros e indígenas, que tiveram suas próprias histórias e etnias apagadas e hoje sabem mais sobre cultura japonesa do que sobre sua própria. “A forma de lazer que eles encontram é essa. Fetichizam, mas existiu todo um sistema pra isso acontecer. Não é um problema individualizado. Essa imagem foi vendida pra eles, e compraram porque é muito difícil sair de um sistema que domina”. Essa fetichização é diferente, por exemplo, quando vem de grandes empresas ou da população branca que tem acesso à informação e pode reconhecer os privilégios que tem – mas prefere ignorar.
Existem várias camadas de Japão que não chegam ao Brasil, de modo que é tóxico pensar em um Japão completamente homogêneo, diminuído a apenas aquilo que é visto em animes e mangás. O que é conhecido e fetichizado é o que o Japão escolhe ser conhecido e fetichizado. Para Tami, que é okinawana, uma etnia japonesa indígena, esse ponto é ainda mais importante, já que as etnias dominadas deixam de ser representadas por não serem rentáveis. “É importante que a gente pense como é feita essa seleção do que é fetichizado, bonito, desejável e do que não é”.
Tami também cita o bairro da Liberdade ao afirmar que, de certa forma, os nipo-descendentes também se aproveitaram da estratégia de soft power do Japão para se exotificar e comercializar sua cultura. Incentivaram as pessoas a quererem fazer parte dessa fantasia. “Esse esforço de colocar luminárias ‘exóticas’ no bairro mostra uma tentativa nipo-brasileira de se exotificar. Uma entrada no Festival do Japão, por exemplo, é muito cara e, mesmo assim, é muito cheio. Fetichizar a ascendência, nesses casos, traz um benefício econômico”.
Citando o professor Koichi Mori, doutor em Ciências Sociais, Mariany afirma que, quando uma cultura está deslocada de seu local de origem, já não é mais a mesma. A cultura japonesa no Brasil seria, na verdade, uma cultura brasileira de origem japonesa. A mesma decoração do bairro da Liberdade estaria completamente deslocada de seu sentido original, ressaltando ainda mais seu propósito comercial.

Otakus
A cultura pop japonesa é um exemplo de como o Japão seleciona qual parte da sua cultura será disseminada pelo mundo. Até os anos 2000, o país possuía dificuldade de aceitar a cultura pop. Numa tentativa de melhorar sua imagem para o resto do mundo, após perceber que a cultura pop era mais comercializável que a tradicional, passou a utilizá-la como ferramenta do soft power.
Conforme a cultura pop japonesa foi ganhando espaço no mundo, seu número de fãs começou a crescer. É nesse contexto que surgem os otakus. O doutor em Antropologia, André Lourenço, explica que, em sua tradução, a palavra otaku é uma forma de tratamento respeitoso utilizado na segunda pessoa. Mas em um dos alfabetos do Japão, o hiragana, também pode significar, literalmente, algo como “seu lar”. No Japão, o termo ganhou um sentido pejorativo, acompanhado da ideia de estranheza, referindo-se a consumidores da cultura de massa que se isolam socialmente. André afirma que “no Brasil houve uma releitura desse conceito. Está associado, basicamente, aos fãs de anime e mangá. Aqui, o termo não tem o peso pejorativo que possui no Japão”.
Atualmente, o número de pessoas que se autodenominam otakus no Brasil é muito grande, e são diversas as formas que essas pessoas encontram para manifestar suas paixões: pronunciando palavras do vocabulário japonês, consumindo produtos advindos do Japão e até mesmo caracterizando-se como os personagens de animes e mangás, praticando o chamado cosplay.
Obsessão, fetichização e apropriação
Com essa grande paixão e fascínio pela cultura nipônica, comecei a me questionar se existiriam limites para esse interesse, principalmente levando em conta minhas experiências e de outras pessoas, como a de Tami: “É muito bizarra a experiência de passar pelo Centro Cultural Vergueiro e umas pessoas dançando K-pop [dança coreana] pararem para te olhar ou pegarem o celular para tirar fotos escondidas de você”.
Na opinião de André, qualquer coisa pode se tornar motivo de obsessão, não é algo que ocorre apenas com a cultura pop japonesa. Já quando falamos em apropriação cultural, ele considera que “apropriação cultural parte de uma visão equivocada de que as culturas são unidades, quando na verdade são construções vivas, que interagem umas com as outras”. Os otakus, por exemplo, se apropriariam da cultura japonesa da mesma forma que nos apropriamos de diversas culturas em várias atividades cotidianas. O pesquisador destaca ainda que essa paixão geralmente possui uma duração. Quando se é mais jovem, há mais tempo disponível e a dedicação e o interesse são mais intensos.
Marianny destaca, também, que as expressões de fãs da cultura pop japonesa são, diversas vezes, muito ricas, com conteúdos diferenciados que inserem características da cultura local brasileira em elementos da japonesa. Ela cita, como exemplo, o canal do YouTube “Lugar Inexistente”, um grupo de jovens que produziu o “Naruto do Acre”, uma paródia que recriou episódios do famoso anime utilizando elementos da cultura indígena. “Quando fui trabalhar na minha tese de doutorado, utilizei a ideia de uma cultura nipo-brasileira e pensei que, para chegar nela, não poderia excluir quem não tem ascendência nenhuma, mas ao mesmo tempo está nela inserido porque produz algum tipo de conteúdo”. Ela afirma que, se formos falar apenas de uma cultura nipo-descendente, um dia ela irá acabar, assim como antigas associações de províncias japonesas, que tinham o intuito de dar apoio aos imigrantes de cada região e eram muito restritas. Com o tempo, tiveram que se abrir e renovar, caso contrário, não iam continuar.
Em meio a seus relatos pessoais, um fator que Tami ressalta sobre apropriação cultural é que esse é um problema estrutural, não pode ser individualizado. “No contexto em que vivemos hoje, é interessante para uma maioria com privilégios de classe pegar culturas que ajudou a exterminar, abstrair símbolos que resistiram a essa opressão, como vestimentas, tatuagens e adereços, e comercializá-los numa ótica de branquitude”. Em meio a esse processo, as culturas tornam-se elementos meramente comercializáveis, sem que seus representantes recebam qualquer retorno financeiro. Além disso, ficam impossibilitados de consumir sua própria cultura, já que esses produtos são vendidos a preços exorbitantes. Essa prática ficou tão arraigada em nossa sociedade que é vista como algo normal, que não merece repúdio.
Outro ponto trazido pela militante é que precisamos distinguir os japoneses da diáspora, ou seja, aqueles que saíram do país e migraram para outros lugares, dos japoneses geograficamente no Japão, nascidos e criados lá. Para os japoneses que residem no país, a apropriação cultural não é um problema, porque eles estão num ambiente homogêneo. Não há uma exotificação porque são a raça majoritária e são constantemente representados. Vêem as apropriações como homenagens à cultura.
Já aqui no Brasil, não somos vistos como brasileiros, mas sim como Outro, como pessoas exóticas. Tami afirma que “para a diáspora, que passa por um processo de tentar se encontrar em outros lugares do mundo, e tem uma história complicada de integração, ver seus signos de resistência, elementos de sua casa, suas memórias, seu afeto sendo utilizados sem cuidado nenhum é muito dolorido, de um jeito que não é pra um japonês do Japão”.

Representatividade
Em meio a tantas discussões sobre a popularização da cultura japonesa e suas formas de representação, algo que também começou a me chamar a atenção foi a contradição da cultura japonesa ser tão prestigiada e, ao mesmo tempo, não termos quase nenhuma representação em programas de TV, novelas e afins. Quando você faz parte de uma minoria, a representatividade tem uma importância muito grande. Permite uma identificação e faz com que o sentimento de exclusão diminua, principalmente quando estamos em processo de formação de identidade.
Simonia relata que, quando era criança, não era tão comum encontrar descendentes de japoneses em sua cidade, o que fazia com que ela e suas irmãs se sentissem muito deslocadas. “Acredito que se houvessem mais personagens asiáticos na televisão isso teria sido diferente, porque acaba entrando no nosso inconsciente”.
Além dos fatores terrenos, como a suposta maior lucratividade de filmes com atores predominantemente ocidentais, para Tami, a construção do estereótipo do descendente japonês frígido e sem expressão passa a ser mais uma desculpa da branquitude para não ceder seus espaços para as minorias. “Isso vai minando nossa representação”.
A militante destaca ainda que, apesar de existirem muitos nipo-brasileiros em cargos importantes atrás das câmeras, poucos se esforçam para colocar pessoas amarelas em papéis relevantes. Quando você não se manifesta, é razoavelmente aceito pela branquitude. A partir do momento em que se opõe, é isolado por cutucar a zona de conforto e os privilégios. “Você não consegue colocar suas pautas sem ser prejudicado emocionalmente. Só fica confortável quieto e engolindo o discurso, porque uma pessoa sozinha não muda a estrutura, e você não quer ser essa pessoa. É complicado ter representatividade num sistema que não quer que isso aconteça”, afirma.
Simonia relembra que houve algumas novelas e séries com atores descendentes, mas ressalta que, em sua opinião, foram colocações muito forçadas. Isso se deve ao fato de que, atualmente, a representatividade virou uma forma de lucro. Ao contrário das minorias se tornarem uma preocupação real das grandes empresas, é apenas uma possibilidade de retorno financeiro. “Acho que quando começarem a colocar atrizes asiáticas pelo simples fato de serem boas atrizes e não por conta de suas etnias, vai ficar mais natural e esse contato será melhor”, afirma a pesquisadora.
Coletivos leste-asiáticos
É nesse contexto de experiências e questionamentos, da importância de vocalizar pautas urgentes, mas pouco faladas, que surgem os coletivos leste-asiáticos. Tami afirma que os coletivos surgem da necessidade de nós, amarelos, nos reconhecermos como corpos racializados que carregam suas próprias contradições e intersecções, e precisam se reconhecer uns nos outros para enfrentar suas complexidades e encontrar acolhimento. “Pensar na história dos asiáticos no Brasil, não só de maneira celebratória como acontece com imigração japonesa, mas de forma política e interseccional, é o caminho para estarmos presentes na luta contra o racismo e reconhecermos nosso lugar nessa estrutura”, afirma.
Cada coletivo surgiu com demandas e objetivos diferentes da comunidade asiática. O Perigo Amarelo teve o objetivo de colocar o amarelo como ser político, a Plataforma Lótus, o de combater o apagamento da mulher asiática no movimento feminista brasileiro e vocalizar seu próprio recorte feminista interseccional. O Asiáticos pela Diversidade surge da invisibilidade do LGBTQIA+ asiático tanto no movimento quanto nos próprios meios asiáticos, e assim por diante. Cada um possui suas especificidades e formas de se organizar, mas têm, em comum, o impacto que causam nas reflexões e vivências dos milhares de descendentes brasileiros. Tami relata que colaborar na Plataforma Lótus e participar ativamente de outros coletivos trouxe uma rede de apoio e acolhimento que ela nunca esperou ter: “Me fortaleci tendo incentivo e apoio para estudar questões que sempre estiveram postas na minha vivência de mulher, amarela, indígena, bissexual, mas sobre as quais nunca encontrei referências, pois sempre estiveram invisibilizadas”.

Num país com a maior colônia japonesa fora do Japão, é inconcebível que continuemos sendo reduzidos a estereótipos sem fundamentos que ignoram nossa pluralidade. A admiração, o interesse e o envolvimento com a cultura são bem-vindos desde que considerem as múltiplas vivências de seus representantes. Reconhecer privilégios e lugares de fala, entender o Japão em sua complexidade, saber que existem opressões e problemas, e que existe uma multiplicidade de seres, é fundamental para chegar num lugar mais saudável de admiração. Nas palavras de Tami: “Reconhecer essas opressões e criar movimento para que elas acabem abala a estrutura vigente e abre precedente para que mais questionamentos e lutas possam crescer”.
Somos 1,5 milhão. Em comum, não temos nem mesmo os olhos puxados, que se alteram entre tamanhos e cores. Nem mesmo a cor da pele, miscigenada em tons diversos. Em comum, temos a cultura, descendência, histórias sofridas de adaptação num país tão estranho a nossos antepassados. Usar essas poucas coincidências para nos retratar como uma imagem única, para ser estereotipada e comercializada, parece apenas mostrar que, mesmo após 110 anos de histórias diversas, vividas e compartilhadas, ainda somos estrangeiros em nosso próprio país.
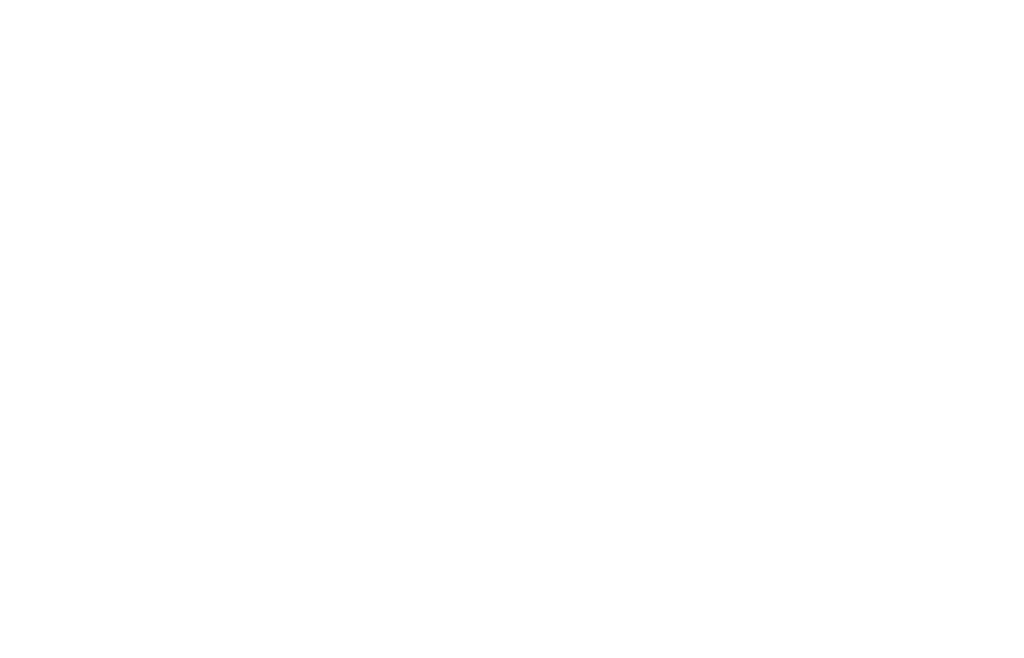









O esclarecimento dessa matéria foi genial e bem aprofundado e com certeza abril a mente das pessoas que leram esse assunto de tamanha importância, pra mim isso foi uma inspiração .