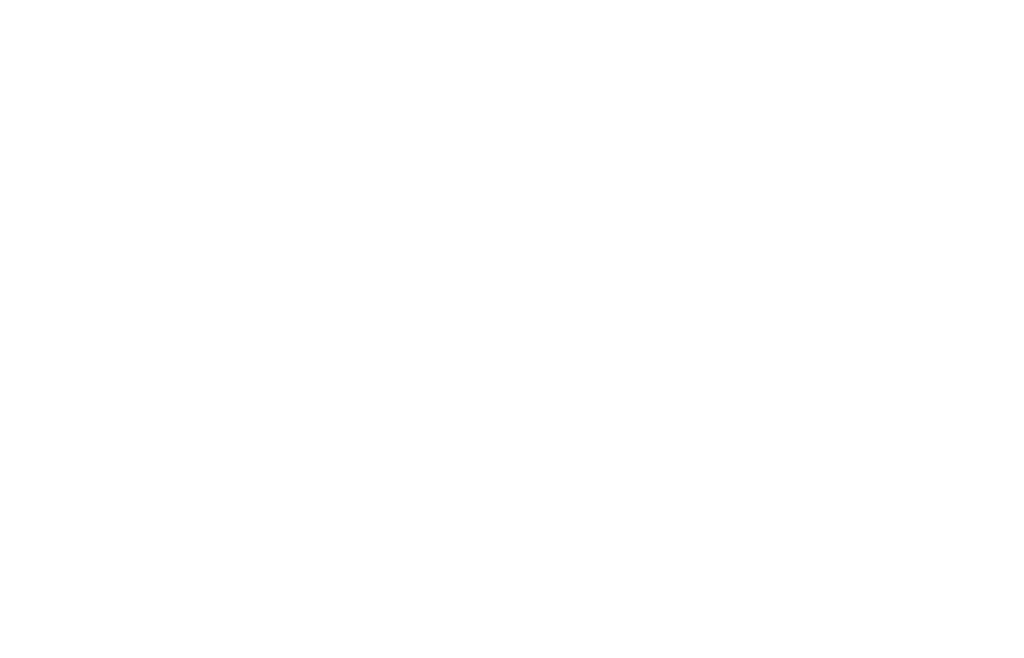“O Talibã podia tomar nossas canetas e nossos livros,
mas não podia impedir nossas mentes de pensar”
– Malala Yousafzai, ativista paquistanesa
No dia 9 de outubro de 2012, um atentado brutal contra uma jovem paquistanesa de 15 anos chocou o mundo: Malala Yousafzai foi baleada na cabeça enquanto voltava da escola. A garota defendia publicamente o direito à educação para as meninas e o ataque foi reivindicado pelo Talibã, o mesmo grupo terrorista que voltou ao noticiário internacional após assumir o poder do Afeganistão em agosto de 2021.
Nove anos depois do incidente que quase lhe tirou a vida, Malala, agora com 24 anos, ainda sofre com as consequências da brutalidade do Talibã em seu corpo — a jovem até hoje precisa ser submetida a cirurgias para restaurar os danos causados por uma única bala.
Seu legado, contudo, foi capaz de ultrapassar as ameaças do terrorismo. Ela se tornou um símbolo da luta pela educação de meninas e é a pessoa mais jovem a ser premiada com o Nobel da Paz, aos 17 anos. Em 2013, criou o Fundo Malala junto a seu pai, uma organização sem fins lucrativos que atua em prol da garantia do direito à educação a milhares de meninas estudantes em vários países, incluindo o Brasil.
Arlene Clemesha, historiadora e professora do Centro de Estudos Árabes da Universidade de São Paulo (USP), comenta, em entrevista à J.Press, sobre a importância da história de Malala. “Ela foi injustiçada, foi um caso absurdo e ao mesmo tempo simbólico, porque ela representa todas as moças que gostariam de estudar. Sua trajetória também evidencia uma tradição de reivindicação de direitos que existe no mundo islâmico, mas é reprimida.”
Segundo Danny Zahreddine, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), Malala dialoga com o Ocidente e estabelece limites para que a respeitem enquanto mulher muçulmana e paquistanesa. “Ela aponta o caminho para que possa ser compreendida como ela realmente é e não como o mundo ocidental imagina que ela seja.”
Malalai, a heroína da vida real
“Malala será livre como um pássaro”
– Ziauddin, pai de Malala
Malala nasceu em 1997, no Paquistão, mais precisamente na cidade de Mingora, no Vale do Swat. Sua história seguiu um curso bem diferente do destino guardado à maioria das meninas desta região: a jovem desafiou os costumes locais e batalhou por seus direitos, ousadia que literalmente pode custar a vida de meninas vivendo sob regimes radicais como o do Talibã.
Seu pais, Ziauddin e Toor Pekai Yousafzai, lhe deram um nome com grande significado: eles se inspiraram em uma heroína afegã para batizar a filha. Segundo a tradição popular, Malalai de Maiwand era uma jovem que cuidava dos feridos da guerra contra a ocupação britânica no Afeganistão em 1880. Após perceber que as forças afegãs estavam perdendo a batalha, ela deixou suas funções de lado e guerreou junto às tropas pela libertação. Sua participação no confronto inspirou os combatentes e contribuiu para a vitória dos afegãos sobre os colonizadores. Ela acabou sendo morta pelos britânicos, mas sua história de coragem se tornou um símbolo da luta pela independência — e, de certa forma, Malala deu continuidade a esse legado.

Desde pequena, a jovem paquistanesa recebeu uma educação distinta daquela oferecida às outras meninas de seu país. No livro Eu sou Malala, escrito em parceria com a jornalista Christina Lamb, a ativista narra como seus pais a tratavam de um modo diferente em comparação às outras garotas da região. Malala não foi impedida de estudar, nem de desfrutar de certas ocasiões familiares ou ainda ensinada a se calar diante dos homens, mas sim estimulada a driblar todas estas imposições. Ziauddin, seu pai, sempre defendeu a liberdade da filha — “Malala será livre como um pássaro”.
Apesar dessa formação e das liberdades que a ativista desfrutava, sua história é atravessada pelo Talibã, o grupo extremista responsável pelo atentado contra a jovem em 2012. Para entender o contexto que possibilitou as ações terroristas do Talibã no Paquistão e, mais recentemente, no Afeganistão, é preciso compreender primeiramente como surgiu esse grupo.
O que é o Talibã?
A origem do Talibã remonta aos anos de polarização política durante a Guerra Fria, quando o governo afegão se alinhou à União Soviética, por meio de uma série de reformas socialistas. Os soviéticos passaram a apoiar o presidente Muhammad Taraki, ao passo que o Paquistão financiou rebeldes e organizações contrárias ao governo.
Então, a União Soviética decidiu mudar de postura: em vez de atuar indiretamente na política afegã, a intervenção foi declarada, com um golpe de Estado que ficou conhecido como a Revolução de Saur. Em 1979, tropas soviéticas invadiram o Afeganistão e colocaram no poder um novo presidente, indicado pelo governo soviético. A comunidade internacional condenou veementemente esse ato e a Assembleia Geral da ONU aprovou medidas contra o intervencionismo soviético na região.
Nesse cenário, os grupos locais que eram contrários às políticas soviéticas foram apoiados e financiados por países como Estados Unidos, Reino Unido e Irã. Os guerrilheiros afegãos passaram a receber armas desse conjunto de países e intensificaram sua influência regional. Esses grupos insurgentes ficaram conhecidos como mujahedins, “aqueles que lutam a guerra santa”.
Em 1989, ocorreu a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, uma década após a ocupação do país. Anos depois, a União Soviética se desmembrou e os rebeldes se fortaleceram.
Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais e graduado em Ciência Política pela Universidade de Tel Aviv, explica que o fim da ocupação soviética em solo afegão deixou um vácuo político no país. Já muito debilitado pelos anos de conflitos e pela pobreza da população, o Afeganistão mergulhou em uma guerra civil entre as diversas facções armadas.
Um desses grupos guerrilheiros, o Talibã, se destacou dentre os demais: em 1996, tomaram a capital afegã, Cabul, e instauraram um governo que duraria até 2001. “Talib” significa “estudante” em pashto, o principal idioma do Afeganistão, pois o grupo se reunia em seminários para estudar as escrituras durante os conflitos da década de 1980. Os talibãs defendem uma interpretação radical do Corão, o livro sagrado do Islã, e podem ser definidos como uma organização fundamentalista islâmica, segundo o professor.
No período marcado pelo governo do Talibã, houve forte repressão à liberdade individual dos afegãos e, principalmente, aos direitos das mulheres. Práticas como ouvir música e dançar foram proibidas, o país se isolou do resto do mundo e as afegãs foram impedidas de ir à escola e de sair de casa sem a companhia de um homem. Punições severas eram aplicadas àquelas que desobedecessem essas regras e elas eram impedidas de ocupar cargos públicos.
Nesse contexto, surge um ponto de virada que alteraria a dinâmica da região: os atentados de Onze de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, organizados pela Al Qaeda, outro grupo fundamentalista. Seu líder, o saudita Osama Bin Laden, se escondia em algum lugar entre o Paquistão e o Afeganistão.
George W. Bush, presidente dos Estados Unidos à época, acusou o Talibã de dar refúgio a Bin Laden e de permitir que seu grupo planejasse os atentados terroristas a partir do Afeganistão, como explica o professor Feldberg. No mesmo ano, tropas estadunidenses invadiram o Afeganistão e tiraram os talibãs do poder. O movimento foi apoiado pela ONU e por aliados dos Estados Unidos, que permaneceram no controle do país durante 20 anos, até 2021.
Mas, o Talibã não desapareceu do mapa. Após ser removido do governo, o grupo passou a atuar em países vizinhos, como o Paquistão. Em certo momento, uma garota chamada Malala levantou a voz contra as repressões do terrorismo — e fez de sua luta uma oportunidade de salvação para todas as meninas paquistanesas.
Vivendo sob a sombra do terrorismo
“Eu me sentia confusa em relação às pregações de Fazlullah [líder talibã].
No Sagrado Corão não está escrito que os homens
devem sair de casa e que as mulheres devem trabalhar o dia inteiro dentro dela”
– Malala Yousafzai
Por volta de 2007, o Talibã chegou no Vale do Swat, uma região montanhosa no noroeste do Paquistão — e terra natal de Malala. No início, segundo relata a jovem em sua autobiografia, a presença desse grupo foi bem recebida pela população local: a maioria das pessoas simpatizava com as ações e posicionamentos dos talibãs, além de uma estação de rádio gerida por eles que arrebanhava ainda mais adeptos.
Aos poucos, porém, a situação foi se agravando: o grupo passou a reivindicar o fim do consumo de músicas, CDs e DVDs no território e se opôs radicalmente à educação das meninas, sob a alegação de que elas deveriam permanecer no lar. “Eu me sentia confusa em relação às pregações de Fazlullah [líder talibã]. No Sagrado Corão não está escrito que os homens devem sair de casa e que as mulheres devem trabalhar o dia inteiro dentro dela”, afirmava Malala.
A partir dos anos 2000, muitas escolas paquistanesas foram fechadas e bombardeadas pelos talibãs. O pai de Malala era dono da Escola Khushal, localizada no Swat, e recebeu diversas ameaças por educar meninas e se recusar a seguir as diretrizes impostas pelo grupo.
Conforme as tensões se escalaram, Malala e outras meninas da região passaram a dar entrevistas às emissoras locais de televisão para falar sobre garotas que abandonaram os estudos por causa dos talibãs. Isso colocou a jovem em destaque, pois, mesmo com apenas 11 anos, ela sabia se expressar bem e não hesitava em criticar as ações terroristas dos extremistas — mas o receio de uma represália permanecia.
Em 2009, Malala foi escolhida pela emissora BBC para escrever um diário relatando sua vida em meio ao Talibã e à proibição da educação das meninas. A jovem adotou o pseudônimo Gul Makai nos textos, que podem ser lidos na internet, e os registros narram a repressão do terrorismo pelo olhar de uma garota de apenas 11 anos — e muito inconformada com o que vê ao seu redor.
O atentado
“Não vi quando dois rapazes com lenços amarrados no rosto saíram
para estrada e fizeram o ônibus parar de repente.
Não tive chance de responder à pergunta deles: “quem é Malala?”.
Senão, eu lhes teria explicado por que eles
deviam nos deixar ir à escola — nós, suas irmãs e suas filhas”
– Malala Yousafzai
O dia 9 de outubro de 2012 representa um ponto de virada na vida de Malala, pois marca o fim do período em que a jovem viveu no Paquistão.
Dois membros do Talibã atacaram o ônibus escolar que levava Malala e suas colegas do colégio para suas casas e dispararam três tiros contra as estudantes, com o objetivo de executar a menina que ousava lhes desafiar. Um dos projéteis atingiu a região próxima ao olho esquerdo de Malala e os outros disparos acertaram duas meninas no ônibus.
“Não vi quando dois rapazes com lenços amarrados no rosto saíram para estrada e fizeram o ônibus parar de repente. Não tive chance de responder à pergunta deles: “quem é Malala?”. Senão, eu lhes teria explicado por que eles deviam nos deixar ir à escola — nós, suas irmãs e suas filhas”, relata a ativista.
A jovem foi levada às pressas para o pronto-socorro e foi transferida para um hospital no Reino Unido, que lhe ofereceu asilo. Malala passou por inúmeras cirurgias e permaneceu internada durante três meses, devido à gravidade do caso — nem os médicos acreditavam que a garota poderia sobreviver.
Em janeiro de 2013, ela deixou o hospital e passou a viver permanentemente no país europeu com seus pais e irmãos. Sua terra natal agora ficava a cinco horas de distância de avião e retornar para lá após quase perder a vida não era uma possibilidade.

A nova vida de Malala
A notícia do atentado contra Malala correu o planeta e chamou a atenção de líderes políticos e defensores da paz.
Após uma série de encontros e conferências com diplomatas e discursos na ONU, a jovem se tornou a pessoa mais nova a ser laureada com o prêmio Nobel da Paz em 2014, aos 17 anos de idade.

Junto a seu pai, a jovem criou o Fundo Malala em 2013, uma organização sem fins lucrativos com a missão de levar educação a milhares de garotas privadas desse direito. A fundação atua em diversos países, incluindo o Brasil, onde mais de 1 milhão de meninas estão fora da escola. Doações podem ser feitas aqui.
Em 2018, Malala tocou o solo do Paquistão pela primeira vez depois do atentado que quase a matou. Sob forte escolta, ela visitou sua cidade natal, sua casa e encontrou antigos amigos. “Fui embora do Swat com os olhos fechados e agora volto com eles abertos”, disse a jovem na ocasião.

Na Universidade de Oxford, no Reino Unido, Malala se graduou em ciências políticas, filosofia e economia. Sua formatura ocorreu um ano depois, em 2021, por conta das restrições da pandemia do coronavírus.
Em novembro do mesmo ano, aos 24 anos, a ativista se casou em uma cerimônia pequena na Inglaterra, em Birmingham. Seu esposo é Asser Malik, empresário esportivo paquistanês.

Malala e o Talibã de hoje
Desde agosto de 2021, o Talibã assumiu o controle do Afeganistão e frequentemente ocupa o noticiário internacional.
A retirada das tropas americanas começou já em 2018 e, no início de 2020, os Estados Unidos assinaram um acordo com o grupo sobre o fim da presença estadunidense no país. O último avião americano deixou o Afeganistão em 30 de agosto de 2021, em uma operação considerada “desastrosa” na avaliação de especialistas e diplomatas mundo afora.

“Querendo ou não, hoje a força estabilizadora do país se chama Talibã. Mas eles precisam flexibilizar certos pontos para ter governabilidade, como a representação multiétnica no governo afegão e a garantia de direitos fundamentais às mulheres e meninas”, explica Zahreddine. Segundo ele, o que ocorre é a tentativa de transformar um grupo terrorista em um governo que possa se encaixar na ética do sistema internacional de Estados e, para isso, será necessário mudar alguns procedimentos.
Para Feldberg, a retomada do poder pelo Talibã no Afeganistão significa uma reversão importante da promoção dos valores defendidos por Malala, com o risco de serem parcial ou totalmente eliminados. “O Talibã está contrariando certas promessas que foram feitas no primeiro momento de tomada do poder no país e certamente o que acontece no Afeganistão pode contaminar a região ao redor”, diz Clemesha sobre a suspensão da educação das meninas no país e ao cerceamento dos direitos das mulheres, em uma clara e incômoda repetição do contexto que levou ao atentado contra Malala.
Embora o grupo se esforce para manter uma aparência de menor agressividade frente ao mundo, o receio de uma represália mais séria aos direitos humanos permanece e a ativista expressa grande preocupação com o que acontece no Afeganistão.
Resta saber se o Talibã de 2022 terá o mesmo poder devastador visto antigamente e exemplificado pelo atentado que mudou a vida de Malala, em um contexto diferente do atual. Mas, como sinaliza Clemesha, “não dá para ter um olhar otimista”.
Uma voz poderosa e importante
“Ela é uma garota exemplar para muitas meninas do Paquistão. Nossas forças de segurança derrotaram a maioria dos talibãs e muitos extremistas fugiram para o Afeganistão ou foram executados”. As palavras são de Daleep Kumar, professor de educação infantil na cidade de Mingora, onde Malala nasceu. Ele comenta que o caso do atentado contra a jovem apenas exemplifica o quanto os talibãs são rígidos com as mulheres.
Malala tornou-se uma personalidade central quando se trata da busca pelo direito à educação e à igualdade no Islã. Também se converteu em uma referência e em um exemplo para muitas meninas que, assim como ela, foram ou são privadas do direito de estudar e ir à escola.
A memória e a visão coletiva construídas sobre a região, entretanto, seguem um rumo diferente. “O que vemos sobre o Afeganistão e o Paquistão é essa imagem de um grupo radicalizado [o Talibã], que marginaliza as mulheres, e que às vezes gera também uma impressão negativa sobre o islamismo”, defende o professor Danny Zahreddine. O internacionalista Samuel Feldberg complementa: “Existe muito desconhecimento e falta de interesse, é raro ver esses países no noticiário sem ser por conta de conflitos armados ou tragédias”.
Desse modo, o fato de Malala ocupar certos espaços de poder e viver no continente europeu acabam por repercutir em visões preconceituosas e distorcidas sobre o que é ser muçulmana.

Em julho de 2021, a ativista estrelou a capa da edição britânica da revista Vogue, uma das mais conceituadas do mundo sobre moda e estilo de vida. Durante a entrevista, Malala comentou sobre sua posição enquanto mulher muçulmana vivendo em um país ocidental e também fez referência ao uso do hijab, o tradicional véu religioso, o qual muitas vezes é visto como opressor pela sociedade ocidental.
Em resposta a isso, a ativista se manifestou: “meninas muçulmanas ou pashtun ou paquistanesas, quando usamos nossas roupas tradicionais, somos consideradas oprimidas, ou sem voz, ou vivendo sob o patriarcado. Quero dizer a todas que você pode ter sua própria voz e igualdade em sua cultura”.
Arlene Clemesha reforça a visão de Malala e diz que a repressão à mulher existe no Islã, mas sua origem está muito mais ligada à sociedade patriarcal e costumes centenários, que não são necessariamente derivados da religião. “O hijab em si não é o signo dessa opressão, o signo é justamente a falta de acesso da mulher à educação, aos direitos humanos, ao mercado de trabalho, à autonomia em sua vida”, explica a especialista.